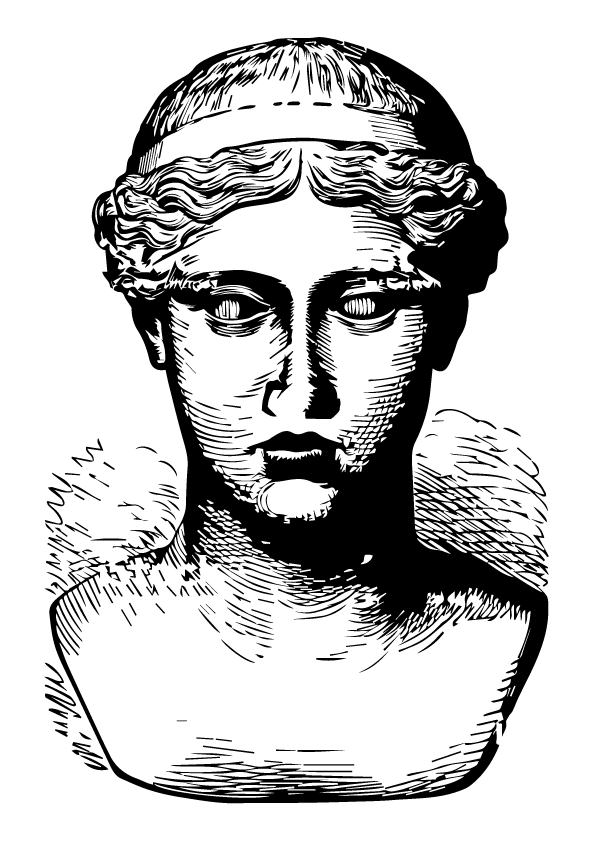Escrito por JOSÉ RUI TEIXEIRA
Peço-te que venhas e me dês
Um pouco de ti mesmo onde eu habite1
Sophia de Mello Breyner Andresen
Sophia chegou cedo. Tinha onze ou doze anos quando li «O Cavaleiro da Dinamarca», cuja primeira edição data de 1964. É difícil explicar o que nos ensina cada livro que lemos. Se fechar os olhos, passados mais de 30 anos, recordo que ali aprendi a condição de peregrino, uma qualquer deriva que não só nos conduz de Jerusalém a Veneza, como – mais profundamente – nos possibilita uma iniciação ao testemunho mudo das pedras de uma e às águas trémulas dos canais da outra, onde se refletem as leves colunas dos palácios cor-de-rosa. Aí aprendi que um cabelo preto pode ser azulado como a asa de um corvo e que «ninguém deve impedir um peregrino de partir».2
Foi Sophia quem, pela primeira vez, me falou de Giotto e de Dante; ensinou-me a ressonância difusa de palavras como oriente e ocidente, norte e sul, e o sentido de regressar a tempo.Li os seus contos na segunda metade dos anos 80 e a sua «Obra Poética», numa edição de três volumes,3 na segunda metade da década seguinte. Recordo, como um frémito, o texto de abertura do primeiro desses volumes, as palavras que proferiu no dia 11 de julho de 1964, no almoço promovido pela Sociedade Portuguesa de Escritores, por ocasião da entrega do Grande Prémio de Poesia:
A coisa mais antiga de que me lembro é dum quarto em frente do mar dentro do qual estava, poisada em cima duma mesa, uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e do vermelho da maçã erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário: era a própria presença do real que eu descobria. Mais tarde a obra de outros artistas veio confirmar a objectividade do meu próprio olhar. Em Homero reconheci essa felicidade nua e inteira, esse esplendor da presença das coisas. E também a reconheci, intensa, atenta e acesa na pintura de Amadeo de Souza-Cardoso. Dizer que a obra de arte faz parte da cultura é uma coisa um pouco escolar e artificial. A obra de arte faz parte do real e é destino, realização, salvação e vida.
Sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um poema foi sempre um círculo traçado à roda duma coisa, um círculo onde o pássaro do real fica preso. E se a minha poesia, tendo partido do ar, do mar e da luz, evoluiu, evoluiu sempre dentro dessa busca atenta. Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é necessariamente levado, pelo espírito de verdade que o anima, a procurar uma relação justa com o homem. Aquele que vê o espantoso esplendor do mundo é logicamente levado a ver o espantoso sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenómeno quer ver todo o fenómeno. É apenas uma questão de atenção, de sequência e de rigor.
E é por isso que a poesia é uma moral. E é por isso que o poeta é levado a buscar a justiça pela própria natureza da sua poesia. E a busca da justiça é desde sempre uma coordenada fundamental de toda a obra poética. Vemos que no teatro grego o tema da justiça é a própria respiração das palavras. Diz o coro de Ésquilo: «Nenhuma muralha defenderá aquele que, embriagado com a sua riqueza, derruba o altar sagrado da justiça.» Pois a justiça se confunde com aquele equilíbrio das coisas, com aquela ordem do mundo onde o poeta quer integrar o seu canto. Confunde-se com aquele amor que, segundo Dante, move o Sol e os outros astros. Confunde-se com a nossa confiança na evolução do homem, confunde-se com a nossa fé no universo. Se em frente do esplendor do mundo nos alegramos com paixão, também em frente do sofrimento do mundo nos revoltamos com paixão. Esta lógica é íntima, interior, consequente consigo própria, necessária, fiel a si mesma. O facto de sermos feitos de louvor e protesto testemunha a unidade da nossa consciência.
A moral do poema não depende de nenhum código, de nenhuma lei, de nenhum programa que lhe seja exterior, mas, porque é uma realidade vivida, integra-se no tempo vivido. E o tempo em que vivemos é o tempo duma profunda tomada de consciência. Depois de tantos séculos de pecado burguês a nossa época rejeita a herança do pecado organizado. Não aceitamos a fatalidade do mal. Como Antígona a poesia do nosso tempo diz: «Eu sou aquela que não aprendeu a ceder aos desastres.» Há um desejo de rigor e de verdade que é intrínseco à íntima estrutura do poema e que não pode aceitar uma ordem falsa.
O artista não é, e nunca foi, um homem isolado que vive no alto duma torre de marfim. O artista, mesmo aquele que mais se coloca à margem da convivência, influenciará necessariamente, através da sua obra, a vida e o destino dos outros. Mesmo que o artista escolha o isolamento como melhor condição de trabalho e criação, pelo simples facto de fazer uma obra de rigor, de verdade e de consciência ele irá contribuir para a formação duma consciência comum. Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas a obra do artista vem sempre dizer-nos isto: Que não somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência mas que somos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser.
Eis-nos aqui reunidos, […] por aquilo a que o padre Teilhard de Chardin chamou a nossa confiança no progresso das coisas.
E tendo começado por saudar os amigos presentes quero, ao terminar, saudar os meus amigos ausentes: porque não há nada que possa separar aqueles que estão unidos por uma fé e por uma esperança.4
Recordo como este texto e a poesia de Sophia, na segunda metade da década de 90, se tornaram seminais para a minha própria condição de poeta, numa fase em que estudava Teologia, convivia com o poeta Daniel Faria e descobria, assombrado, a poesia de Teixeira de Pascoaes.
Quando, em 2013, fui nomeado diretor da Cátedra de Sophia, decidi regressar – sem pressa – à intimidade da sua obra poética. Sabia que em 2019 passariam cem anos sobre o seu nascimento e, tal como o peregrino dinamarquês do conto, teria de percorrer o caminho até ao âmago desse lugar, perto do mar, casa-poesia construída numa clareira rodeada de bétulas, como as que Klimt pintou, em 1902.
Tendo relido toda a sua obra poética, decidi refletir sobre «No tempo dividido»,5 livro publicado em 1954. O motivo prende-se com o facto de a própria Sophia tê-lo considerado um “livro de passagem”, como lembra Federico Bertolazzi no prefácio à quinta edição6; um livro que – tendo sido antecedido por «Poesia»7 (1944), «Dia do mar»8 (1947) e «Coral»9 (1950) – foi sendo reescrito até à sua forma definitiva, em 2003,10 49 anos depois da sua primeira edição e um ano antes da morte de Sophia.
Essa reescrita implica uma profunda relação com o tempo, um exercício de temporalidade que espalha cicatrizes quase impercetíveis na superfície das páginas, cicatrizes que são como que a silente expressão fóssil de feridas temporais.
Detenho-me um pouco nesse processo de reescrita, oportunamente analisado por Federico Bertolazzi.11 A estrutura da 1.ª edição, de 1954, apresenta uma divisão cronológica, em quatro partes (i – 1939-1943, ii – 1946-1947, iii 1949-1950 e iv – 1954), nas quais se reúnem 42 poemas. Porém, Sophia reconsidera esta organização e – 31 anos depois, em 1985 – a segunda edição12 (na qual «No tempo dividido» é publicado juntamente com «Mar novo»13) é reorganizada em duas partes: “Poemas de um livro destruído” e “No tempo dividido”. Dos 42 poemas da primeira edição, subsistem na segunda apenas 28, dos quais alguns são profundamente reescritos.
Esta reorganização é justificada por Sophia, numa nota à segunda edição:
A primeira edição de No tempo dividido era composta por duas séries de poemas: um pequeno número de poemas escritos antes de Coral e contemporâneos dos meus dois primeiros livros, e poemas escritos depois de Coral.
Na presente edição procuro arrumar esta desordem cronológica.
Os poemas anteriores a Coral – que serão incluídos numa futura edição de Dia do mar – são agora substituídos pelos «Poemas de um livro destruído», que cronologicamente se situam entre Coral e No tempo dividido.
Nas suas primeiras edições, No tempo dividido (1954) e Mar novo (1958) foram publicados separadamente. São agora reunidos num só volume, por pertencem a um mesmo «ciclo» e são na realidade um mesmo livro.
De ambos os textos foram retirados alguns poemas: ou porque eram ecos diluídos de temas antigos ou porque eram o aflorar indeciso de temas futuros.14
Percebe-se que o que preocupa Sophia é uma “desordem cronológica”, entre os “ecos diluídos de temas antigos” e o “aflorar indeciso de temas futuros”. Estamos em 1985 e a depuração deste livro não está concluída: em 1991, na edição do segundo volume da «Obra poética», mantém a organização da segunda edição, mas com 26 poemas; e, como se o tempo continuasse a erodir o corpo deste livro, em 2003 a terceira edição apresentará 37 poemas. É a morte de Sophia, em 2004, 50 anos depois da primeira edição de «No tempo dividido», que lhe assegurará uma estrutura definitiva.
Para Federico Bertolazzi, a poesia de Sophia é também uma questão de tempo. É dentro do tempo que se escuta a sua “aspiração à unidade e à inteireza”.15 Sophia não se arroga à unidade e à inteireza; Sophia aspira à unidade e à inteireza. Trata-se, por isso, de uma poesia eivada de incertezas: mesmo quando revela a posse de uma luminosidade, guarda ainda sombras subtis; mesmo quando os seus contornos intocados sugerem a lisura da superfície, não omite as suas asperezas, a litania rumorosa dos seus augúrios, o lamento – em melopeia – do tempo dividido.
No prefácio da quinta edição de «No tempo dividido», Federico Bertolazzi propõe que a poesia de Sophia se articule em quatro níveis concêntricos da experiência de tempo. Um primeiro nível, exterior, representa a dimensão histórica e empírica do tempo: representa a experiência existencial estilhaçada, o desencontro do homem com as coisas, com os outros e consigo mesmo. O caminho que se percorre do nível exterior até ao núcleo, é um exercício de êxodo, de libertação. Essa libertação parece cumprir-se, historicamente, vinte anos depois da primeira edição de «No tempo dividido», nesse “25 de Abril” – poema de «O nome das coisas»16 (1977) – que, sem deixar de remeter para um acontecimento histórico concreto, adquire – na imanência própria à “substância do tempo” – uma organicidade meta-histórica:

Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo17
O nível interior – esse âmago – representa, para Federico Bertolazzi, “o tempo estético próprio da poesia e da palavra”.18 Não creio que configure a possibilidade escatológica de um “tempo último”, mas representa certamente uma experiência soteriológica de temporalidade.
Creio que, em «No tempo dividido», se percorre esse caminho de adentramento: uma espécie de “suspensão labiríntica” que representa o espaço que medeia o exterior, a crosta da experiência da temporalidade, e o seu núcleo. O labirinto é, assim, “um lugar de perda e de suspensão”,19 como se percebe logo no primeiro poema do livro:
A memória longínqua de uma pátria
Eterna mas perdida e não sabemos
Se é passado ou futuro onde a perdemos20
O tempo “não é encarado apenas como duração, mas principalmente como intensidade”.21 E, neste sentido de desterro e perda que o labirinto representa, não há um “tempo quando”, mas um “tempo onde”. Ocorrem-me os densos novelos sistémicos das psicografias e mitografias topológicas de um Portugal – ora distópico, ora eutópico – embalado pela melopeia que ressoa entre a memória turva da redondilha camoniana (“Sôbolos rios que vão”22) e a voz grave de Herculano (“Terra cara da pátria, eu te hei saudado/ D’entre as dores do exílio”23).
Aqui nos deparamos, aparentemente, com a impossibilidade de uma experiência soteriológica da temporalidade. Escutemos o poema “No tempo dividido”:
E agora ó Deuses que vos direi de mim?
Tardes inertes morrem no jardim.
Esqueci-me de vós e sem memória
Caminho nos caminhos onde o tempo
Como um monstro a si próprio se devora24
É como se escutássemos, aqui, o rumor da elegia “O pão e o vinho”,25 de Hölderlin, o rumor dessa incontornável pergunta: “para que servem poetas em tempo de indigência?”.26 O tempo de indigência é o tempo exterior, o tempo que exige a recuperação do tempo, a superação do tempo dividido, a restituição do tempo inteiro.
Prefiro, aqui, “tempo poético” a “tempo estético”. E creio que o “tempo poético” não corresponde a um sentido escatológico de “tempo último”, mas essencialmente ao “tempo inteiro” ou, em última análise, a esse lugar (“tempo onde”) em que o “tempo último” coincide com o “tempo primeiro”. Arriscaria afirmar que se trata da expressão imanente – ou transimanente – de “pleroma”.
Entre o nível exterior e o núcleo, Federico Bertolazzi concebe dois níveis, ambos exprimindo essa dimensão labiríntica em que o homem perde as referências e experimenta a deriva que angustia e dilacera: esses dois níveis representam o caminho que separa o afundamento da perda da esperança e o processo de antecâmera do âmago do tempo poético, acontecem aqui as primícias da comunhão com o todo (o inteiro, o intacto, o nu).
Eurydice personifica a perda, o irresgatável, a indigência do mundo das sombras, mas também a demanda desse âmago em que – se crê – a morte é abolida:
Este é o traço que traço em redor do teu corpo amado e perdido
Para que cercada sejas minha
Este é o canto do amor em que te falo
Para que escutando sejas minha
Este é o poema – engano do teu rosto
No qual busco a abolição da morte27
Entre a lisura e a transparência, matérias-primas da poesia de Sophia, irromperá um soneto (o “Soneto de Eurydice”); entre a ausência, o silêncio e o rosto:
IDEM:
Eurydice perdida que no cheiro
E nas vozes do mar procura Orpheu:
Ausência que povoa terra e céu
E cobre de silêncio o mundo inteiro.
Assim bebi manhãs de nevoeiro
E deixei de estar viva e de ser eu
Em procura de um rosto que era o meu
O meu rosto secreto e verdadeiro.
Porém nem nas marés nem na miragem
Eu te encontrei. Erguia-se somente
O rosto liso e puro da paisagem.
E devagar tornei-me transparente
Como morta nascida à tua imagem
E no mundo perdida esterilmente.28
Há um caminho que se entrevê entre o “Poema de amor de António e de Cleópatra” e “Santa Clara de Assis”. O primeiro, primícias da “união com o todo”,29 suspende a existência dos dois amantes dentro do tempo que flui:
Pelas tuas mãos medi o mundo
E na balança pura dos teus ombros
Pesei o ouro do Sol e a palidez da Lua.30
O segundo – “Santa Clara de Assis” – parece sair do labirinto, parece adentrar-se na antecâmera onde se pressente, intui e antecipa o tempo inteiro:
Eis aquela que parou em frente
Das altas noites puras e suspensas.
Eis aquela que soube na paisagem
Adivinhar a unidade prometida:
Coração atento ao rosto das imagens,
Face erguida,
Vontade transparente
Inteira onde os outros se dividem.31
José Tolentino Mendonça lembra que, para Eckhart, o tempo é o maior obstáculo à união com Deus.32 É evidente que o tempo é o maior obstáculo à união com Deus. É também evidente que é, ainda assim, o tempo o único meio de união com Deus. Refiro-me a esse “tempo onde”, esse tempo através do qual se percorre este caminho.
Talvez não seja ainda possível – em sentido estritamente teológico – afirmar a coincidência de “tempo poético” e “tempo último”.
Sendo um “livro de passagem” (de êxodo, uma quaresma que entrevê – em travessia – a páscoa), «No tempo dividido» é como uma crisálida, um grito de resgate: entre a pátria perdida e o corpo perdido, entre o terror (as “paredes brancas que suam terror”), a sombra (a sombra que devagar suga o seu sangue), a claustrofobia irrespirável de um “eu fechado” e a necessidade de respirar (“Não sei por onde o vento possa entrar”33), Sophia entretece uma mistagogia da temporalidade, um segredo:
Um murmúrio em voz baixa para os mortos
A lamentação húmida da terra
Numa sombra sem dias e sem noites34
A sua aspiração à unidade e à inteireza é uma experiência de “noite escura”:
Na minha vida há sempre um silêncio morto
Uma parte de mim que não se pode
Nem desligar nem partir nem regressar
Aonde as coisas eram uma intimamente
Como no seio morno de uma noite35
E o tempo de indigência adquire uma feição invernal, de “desolação e frio”, com a “mesma neve de horror desencarnada” e a “mesma solidão dentro das casas”.36 Sophia lamenta: “Não procures verdade no que sabes/ Nem destino procures nos teus gestos/ tudo quanto acontece é solitário”.37
E se Deus pudesse ser o que não se sabe ainda? Esse segredo, essa verdade intuída desde a mais desoladora indigência e desproteção. E se a aspiração à unidade e à inteireza, na poesia de Sophia, traduzisse uma nostalgia de absoluto, uma saudade de Deus? E se fosse Deus o interlocutor deste poema?
Não te chamo para te conhecer
Eu quero abrir os braços e sentir-te
Como a vela de um barco sente o vento
Não te chamo para te conhecer
Conheço tudo à força de não ser
Peço-te que venhas e me dês
Um pouco de ti mesmo onde eu habite38
Quando evoquei, recentemente, o conceito de “teotopia”39 (no âmbito daquilo que defini como “teotopologia literária”), não me referia a um lugar isolado de Deus, nem ao lugar de um Deus isolado; referia-me a um lugar coabitado, partilhado, intermédio – nem imanente, nem transcendente, mas transimanente –, um lugar indigente, que não recusa a temporalidade, nem abdica da interrogação; um lugar sem certezas, em que a ausência é vagamente iluminada pela centelha frágil de uma presença pressentida. Ocorre-me agora que estes dois versos de Sophia são uma poética definição de “teotopia”: “Peço-te que venhas e me dês/ Um pouco de ti mesmo onde eu habite”.
Este “onde eu habite” – a “teotopia” como lugar – é uma expressão da temporalidade, é a coincidência entre um “lugar quando” e um “tempo onde”. A teotopia literária não é o pleroma; a teotopia é ainda o labirinto; é ainda o tempo dividido, a antecâmera do tempo inteiro, o “lugar quando” e o “tempo onde” se escuta:
O meu nome fantástico e secreto
Que só os anjos do vento reconhecem
Quando os encontro e perco de repente40
Sophia prossegue, entre o vento e o silêncio, entre a “Intacta memória”41 e as “praias tocadas de infinito”,42 entre “as palavras que há nas coisas”, o gesto e a “paisagem essencial e pobre”.43 Sophia prossegue, entre a lisura e a transparência, entre a “promessa antiga/ de uma manhã futura”44 e os espaços que “oscilam nas janelas”.45
Sophia “soube na paisagem/ Adivinhar a unidade prometida”46; foi uma “Vontade transparente/ Inteira onde os outros se dividem”.47 Entre naufrágios, desastres e destroços, teve “o futuro por memória”48; entre o pensamento sem rosto, os gestos sem peso e o olhar atento que nenhum acaso desvia,49 como Antígona, a poesia de Sophia diz: “Eu sou aquela que não aprendeu a ceder aos desastres”.
À pergunta de Hölderlin, respondeu, no último poema de «No tempo dividido»: o poeta “Veio sem que os outros nunca o vissem/ E as suas palavras devoraram o tempo”.50 Para que servem poetas em tempo de indigência? Para que as suas palavras devorem o tempo: a temporalidade redimida no tempo devorado – tempo poético, tempo inteiro, tempo que só será último se coincidentemente for tempo primeiro.
Foi há cem anos que Sophia foi exposta à temporalidade. Os poetas não nascem, são trazidos à luz. Sophia não nasceu… há cem anos foi
trazida à luz
trazida à liberdade da luz
trazida ao espanto da luz51.
Notas:
Andresen, S. M. B.. (2013). No tempo dividido. Porto: Assírio & Alvim, p. 30.
Andresen, S. M. B.. (1985). O Cavaleiro da Dinamarca. Porto: Figueirinhas, 17.ª ed., p. 12.
Andresen, S. M. B.. (1995, 1998, 1999). Obra poética i, ii e iii. Lisboa: Editorial Caminho, 3.ª ed..
Andresen, Obra Poética I, pp. 7-9.
Andresen, S. M. B.. (1954). No tempo dividido. Lisboa: Guimarães Editores. Cito, aqui, a 5.ª edição (2013): Porto: Assírio & Alvim.
Bertolazzi, Federico (2013). “Prefácio”, in Andresen, S. M. B.. (2013). No tempo dividido. cit., p. 11.
Andresen, S. M. B.. (1944). Poesia. Coimbra: Edição da Autora.
Andresen, S. M. B.. (1947). Dia do mar, Lisboa: Edições Ática.
Andresen, S. M. B.. (1950). Coral. Porto: Livraria Simões Lopes.
Andresen, S. M. B.. (2003). No tempo dividido. Lisboa: Editorial Caminho, 3.ª ed..
Bertolazzi, cit., pp. 14-16.
Andresen, S. M. B.. (1985). No tempo dividido e Mar novo. Lisboa: Edições Salamandra.
Andresen, S. M. B.. (1958). Mar novo, Lisboa: Guimarães Editores.
Andresen, No tempo dividido e Mar novo, p. 7.
Bertolazzi, cit., p. 11.
Andresen, S. M. B.. (1977). O nome das coisas. Lisboa: Moraes Editores.
Andresen, Obra poética iii, p. 195.
Bertolazzi, cit., pp. 11-12.
Idem, p. 12.
Andresen, No tempo dividido, p. 23.
Bertolazzi, cit., p. 12.
Camões, L. (1984). “Babel e Sião”, in Lírica. Lisboa: Círculo de Leitores, pp. 91-102.
Herculano, A. (2010). “Tristezas do Desterro”, in O Escritor. Lisboa: IN-CM, pp. 121-134.
Andresen, No tempo dividido, p. 52.
Hölderlin, F. (1992). Elegias. Lisboa: Assírio & Alvim, pp. 51-61.
Idem, p. 59
Andresen, No tempo dividido, p. 24.
Idem, p. 50.
Bertolazzi, cit., p. 13.
Andresen, No tempo dividido, p. 49.
Idem, p. 56.
Mendonça, J. T. (2007). “A pintura sonora”, in Pentateuco: pintura de Ilda David. Lisboa: Assírio & Alvim, p. 9.
Andresen, No tempo dividido, p. 25.
Ibidem.
Idem, p. 26.
Idem, p. 27.
Idem, p. 29.
Idem, p. 30.
Teixeira, J. R. (2019). Vestigia Dei. Sobre a possibilidade de uma leitura teotopológica da literatura portuguesa. Maia: Cosmorama Edições.
Sophia, No tempo dividido, p. 36.
Idem, p. 40.
Idem, p. 42.
Idem, p. 48.
Idem, p. 53.
Idem, p. 55.
Idem, p. 56.
Ibidem.
Idem, p. 58.
Cf., Idem, p. 57.
Idem, p. 63.
Andresen, Obra poética iii, p. 65.