Escrito por ANNABELA RITA
…quando no fundo dos espelhos
Me é estranha e longínqua a minha face
E de mim se desprende a minha vida.
Sophia de Mello Breyner Andresen
Sophia de Mello Breyner Andresen é uma voz absolutamente singular da literatura portuguesa, sacerdotisa do verbo poético que embebe de memória estética, dotando-o de uma museologia imaginária que convoca, quer a sua obra, quer a ocidentalidade mais universalizante da nossa cultura, reflectindo-se nelas em fragmentos autorretratísticos. Jogo de reflexos em jeito de palimpsesto. Vibrante de refrações, de fantasmas, de convocações.
Da poesia à ficção e do ensaio poético à narrativa infantil, a sua obra caracteriza-se por uma extrema coesão e coerência, quer pela imagística simbólica que transita entre textos, adensada pela equivalência entre si e pela conciliação da imanência com a transcendência, da objectalidade com uma dimensão mágica, quer por um ideário ético e estético nela subsumido, quer pela memória estética de luminoso classicismo, quer, ainda, pelo modo como o timbre lírico da sua voz esbate as fronteiras genológicas, conferindo inequívoca poeticidade a todos os seus textos.1
Para Sophia, a escrita é um modo de religação com o mundo, os seres e as coisas, de recuperação de um estado primordial de completude e plenitude, assumindo o poeta função sacerdotal, mediador entre a actualidade angustiada e fragmentada e esse passado luminoso cuja perda se exprime pela nostalgia de um tempo-espaço mítico.
Sempre a poesia foi para mim uma perseguição do real. Um poema foi sempre um círculo traçado à roda duma coisa, um círculo onde o pássaro do real fica preso. E se a minha poesia, tendo partido do ar, do mar e da luz, evoluiu, evoluiu sempre dentro dessa busca atenta […] [d]o espantoso esplendor do mundo (OP I, p. 7).
O Poeta é o protagonista supremo do exílio de uma idade arquetípica simbolizada num Olimpo transcendente modelizado pelo paradigma da civilização grega e numa Natureza verdadeira que as Fúrias destruíram. Nova face desse mítico e longínquo Orfeu, tomando-lhe o testemunho na “voz da flauta na penumbra fina”2 e reinstalando o outrora. Instância a um tempo retórica e religiosa que se manifesta diversamente, oscilante e fluida, mas fazendo sempre sentir a sua presença pelo modo como promove a ligação entre seres, objectos, lugares, momentos e olhares (escrita e leitura), metonimizando-os, sintetizando-os magicamente no poema, texto, templum, rosto, onde o “real emerge e mostra seu rosto e sua evidência” (OP I, p. 71).
Sujeito, texto, evocação estética e mundo, tudo se conjuga, por fim, numa única e luminosa imagem emergente, eminentemente simbólica e totalizadora: o “rosto [que] emerge branco da sombra” (OP I, p. 65). O eu poético dissolve-se no seu universo, fundido nele.
Por um lado, essa instância poética impõe-se a ponto de se representar num eu onde confluem o autoral, o biográfico e o ensaístico. Aliança fundada em imagens que fazem a ponte entre esses diferentes territórios: escrita, vida, reflexão. Como acontece, por exemplo, quando data o seu primeiro encontro com o real representando-o na imagem da maçã, coincidente na mais remota memória declarada (“Arte poética”, OP I, p. 7) e na ficção (“A casa do mar”3) assumida, reflexivamente perspectivadas, valendo por si, mas também como “outra coisa”: uma estética artística, sujeita à História, cristalizada em cânone(s), e uma estética natural, de harmonia, conjunção, sintonia, da unidade íntima do real (daí as maçãs “interiormente acesas”).
No entanto, o sujeito poético também se esbate a ponto de se dissimular na “impessoalidade” que sugere um oficiante em ponto de fuga além e aquém de uma littera hieratizada pela ausência dos artigos, rito convidando o leitor à comunhão. E convida-me a entrar no círculo daqueles a que se destinam, nas casa-templum, as cadeiras “à roda da mesa baixa”, círculo mágico da mágica feiticeira de alquímica cozinha cujo ritual é anunciado e confirmado pelo “fumo [que] sobe muito lentamente”, duplicando “o perfume que sobe de um frasco de vidro doirado e preto que alguém deixou aberto”.4
Ou vai-se deixando entrevistar através de imagens identitárias, fragmentos de um corpo estético sobreimpresso noutros com pregnância na memória colectiva, refractando-se à superfície do texto. Imagens de uma figura esquiva participando de diferentes planos, espaços, naturezas. Imagens como a da própria «A menina do mar»5 ou a de Vénus, que pressinto n’ “A casa do mar”, imagem fusional confundindo poema, evocação emblemática e auto-representação.6
Ao longo da minha visita a esse lugar em finisterra simbólica, na instabilidade do visível, surpreendo reflexos vagabundos de uma presença denunciada pelo vento (que “faz voar em frente dos olhos o loiro dos cabelos”), semi-ocultada “pela penumbra e pela luz” no instantâneo de uma fotografia (“a mão polida […] que docemente poisa sobre a mesa, o perfil sereno e claro com o cabelo brilhando sobre o vestido escuro, o […] pescoço fino […]”) emergindo da sombra (“o rosto emerge branco da sombra”) ou revelando-se no espelho (que “mostra o outro lado do perfil”), com “algo de glauco e de doirado”, “uma mulher de olhos verdes e cabelos loiros, leves e compridos, de um loiro brilhante e sombrio”.7
Todo o universo da casa do mar denuncia essa presença fundadora que ouve, vê, cheira, está, tacteia e se move, apresenta provas da sua existência, como se lhe sugerisse um estatuto transcendente, divino: eu omnipresente feito verbo, mas invisível de facto.
Ao longo de “A casa do mar”, à medida que sou conduzida para esse momento de epifania (espiritual e estética) através da via crucis da casa-mar-búzio, vou assistindo à progressão da emergência dessa figura feminina, à sua evidenciação final e definitiva. Insinuação de Vénus, símbolo da Beleza e do eterno feminino emergindo em triunfo no clímax em que termina o conto, ritmada pela rebentação das ondas, celebrada pelo clamor das vagas e pelas brumas incensórias, onde “o universo ordena seu tumulto e seu sorriso”.8
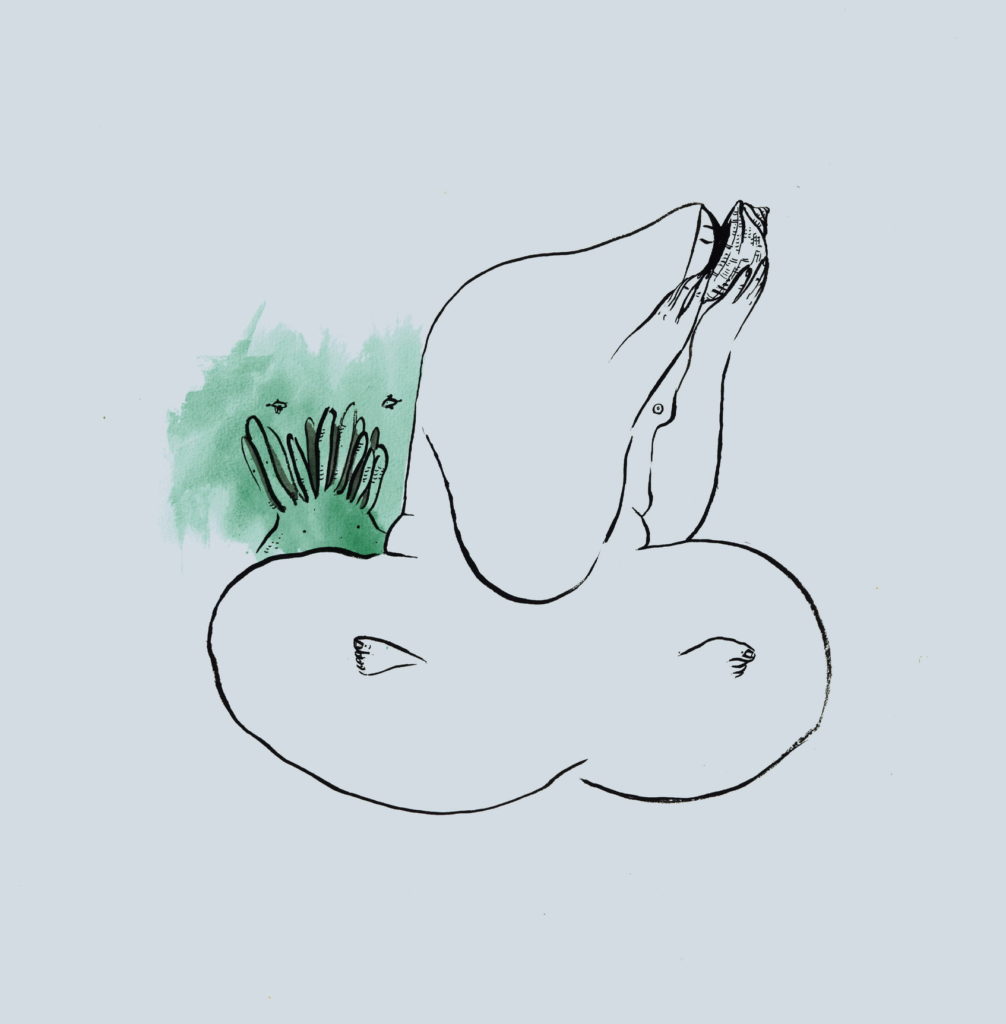 Ina Gouveia
Ina Gouveia
Essa fantasmática e entrevista “mulher olhos verdes e cabelos loiros” que se vai deixando vislumbrar desde o início configura-se no final sobre a espuma das vagas como Vénus, “rosto-início” que, em “Memória”, Sophia reconhece simbolicamente espelhado na superfície do signo estético, denunciando-lhe o ideal, o cânone, a genealogia, informando-o de narcísica reflexividade. Momento adensado por dupla citação de motivos clássicos com vastíssima representação iconográfica e literária que eu inevitavelmente evoco. Por um lado, a do nascimento e do triunfo de Vénus, consagrados por quadros como «O nascimento de Vénus» (c. 1636) de Nicolas Poussin (1594-1665), também conhecido por Triunfo de Neptuno e de Anfitrite ou apenas por Triunfo de Neptuno, onde ela, celebrada por tritões, contracena com este, que conduz um carro puxado por cavalos; ou como o quadro «O nascimento de Vénus» (1863) de Alexandre Cabanel (1823-1889), em que ela emerge horizontalmente fundida com as ondas em suave rebentação. Por outro lado, a das ondas-cavalos de Neptuno, lembrando toda uma linhagem que culmina com o célebre «Os cavalos de Neptuno» (1892), de Walter Crane (1845-1915), onde as ondas rebentam em longa fileira de cavalos brancos conduzidos por possante Neptuno. Convergência e duplicação, metamorfose sonhada e bebida nos mitos de outrora, figurações do feminino entre terra e água, é o rosto-fundamento que se afirma origem da voz poética em “Memória”:
Mimesis. E vós Musas filhas da memória
De leve passo nos cimos do Parnaso
Suave a brisa – a fonte impetuosa
Princípio fundamento rosto-início
Espelho para sempre os olhos verdes
As longas mãos as azuladas veias.9
Memória que invoca e interpela:
És quem desliza e canta à flor da água
Música e água é tua voz para mim.10
Sophia recorre a uma imagística adensada pela combinação do símbolo, da parábola e da alegoria em cada tópico e pela relação metonímica e identitária que os aproxima a todos.
Desse modo, o seu rosto é um “Rosto derivando lentamente” entre “nu na luz directa”, “suspenso”, “desfeito”, “abandonado e transparente” e “perdido”, em “osmose lenta” (OP I, p. 239). Por isso, tudo lhe oferece reflexos de si:
Chamei por mim quando cantava o mar
Chamei por mim quando corriam as fontes
Chamei por mim quando os heróis morriam
E cada ser me deu sinal de mim
(OP I, p. 163).
E dissolve-se no universo:
As minhas mãos mantêm as estrelas,
Seguro a minha alma para que não se quebre
A melodia que vai de flor em flor,
Arranco o mar do mar e ponho-o em mim
E o bater do meu coração sustenta o ritmo das coisas
(OP I, p. 164).
E as imagens da casa, do búzio, da ilha, etc. equivalem-se como lugares de confluência de diferentes (dentro/fora, terra/mar, natureza/cultura, etc.), ínsulas de nexologia, que o poema prefigura e que a escrita renova a cada passo. O discurso sobre cada uma delas constitui-se em parábola das outras. Parábola, até, de uma aproximação cognoscente e sensível de todas, desenhando um itinerário na sua geografia (recordemos este título de 1967), cartografando essa viagem subjectiva que termina em evidência epifânica,
Pois a minha poesia é a minha explicação com o universo, a minha convivência com as coisas, a minha participação no real, o meu encontro com as vozes e as imagens (OP III, p. 95).
E através de todas as presenças
Caminho para a única unidade
(OP I, p. 46).
Além disso, cada lugar poético é lugar de confluência, emergência e compactação estéticas, lugar de museologia pessoal, de convocação.
É o caso, por exemplo, da casa (búzio, templo, ilha, etc.), essa repetida “Casa branca em frente ao mar enorme,/ Com […] / O milagre das coisas que eram minhas” (OP I, p. 31). Casa cuja galeria íntima, de insígnias identitárias sucessivamente expostas, sinalizando o além-textual, faz de cada lugar um quadro como o que a autora descreve no poema “Para Arpad Szenes”:
O pintor pinta no tempo respirado […]
Pinta o quadro dentro do qual o quadro
Se tece malha a malha como em tear a teia
O outro quadro convocador do convocado”
(OP III, p. 179).
Toda a imagem de Sophia se revela, pois, representação de “outra coisa”, figura anunciadora, diferindo sentidos, fazendo-me buscar para além dela, sempre mais além, anunciando novos encontros com o real: casa e jardim, “Estreita taça/ A transbordar da anunciação/ Que às vezes nas coisas passa” (OP I, p. 83), lugar e matéria de expectância na minha trajectória, “através de todas as presenças” da “única unidade” (OP I, p. 46). E a leitura avança do conhecimento acidental, do aparente, visível, para o conhecimento fundamental, do real e da sua evidência.
Assim, lugar de memória e consciência da arte, a imagem poética impõe definitivamente a sua dimensão estética, assumindo-se como espaço da Arte, dos seus fantasmas, desse metamórfico e fluido “brilho vivo que navega no interior da sombra” (OP I, p. 68).
Sophia é, pois, a figura diante de si, do universo e da Arte que o enuncia, de lugar indefinido ou capaz de ocupar qualquer um deles. E o texto é “lugar de convocação” e “de aparição” (OP III, pp. 341-342), de epifania.
NOTA: A autora escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.
* Imagem de capa: Ina Gouveia
Notas
Os textos citados são retirados da edição da Obra Poética (OP) da autora [edição utilizada: (1996). Lisboa: Editorial Caminho (vols. I-II) & (1998). Lisboa: Editorial Caminho (vol. III)], salvo indicação em contrário. Por comodidade, as referências desta obra seguem-se às citações no corpo do texto, com recurso às iniciais dos volumes.
Andresen, S. M. B. (1994). “Eurydice em Roma” in Musa. Lisboa: Editorial Caminho, p. 28.
Conto incluído no volume de Sophia de Mello Breyner Andresen (1994) intitulado Histórias da terra e do mar. Lisboa: Texto Editora, pp. 57-72. As citações serão retiradas desta edição.
Ibidem, pp. 64, 67 e 67, respectivamente.
Andresen, S. M. B. (2004). A Menina do Mar. Porto: Figueirinhas, pp. 12-14.
Cf. análise deste conto no meu livro (2010) Cartografias Literárias. Lisboa: Esfera do Caos Editora, pp. 157-184.
“A Casa do Mar”, in ibidem, pp. 61, 65 e 68, respectivamente.
Ibidem, p. 72.
Andresen, S. M. B. (1994). Musa. Lisboa: Editorial Caminho, p. 16.
Ibidem, p. 33.
