Escrito por HUGO MONTEIRO
Pulsa, no poema escutado desde a infância – antes mesmo de se saber da existência da literatura –, o protesto sonoro e sem língua que é a própria infância.
I. Antes do início
Na sua precisão luminosa, Sophia declara, ao longo da sua escrita, uma fidelidade ao indício de uma origem silenciada nas coisas e nos seres, de que o poema é rastro e rumor. Trata-se de uma fidelidade ao que, desde o início, desde sempre, se imprimiu numa concepção de poesia e de poema intuída no exterior de qualquer disciplina discursiva. Somos confrontados com uma abordagem da poesia ligada ao modo do seu acontecer, da sua experiência concreta e, de certa forma, selvagem:
“Encontrei a poesia antes de saber que havia literatura”, escreve Sophia.1 A poesia surge antes da instituição-Literatura, enquanto matéria de intuição e de escuta; Sophia descreve a poesia como algo que lhe acontece. A poesia é por isso necessariamente anterior, não apenas à literatura, mas à própria acção consciente e deliberada de um sujeito. A poesia acontece. Não é da ordem de um fazer, não é produto da iniciativa autónoma de quem assina ou da soberania decisória do gesto consciente. A poesia acontece, tomba sobre nós, sobre autor/a e leitor/a, como experiência inusitada derivada de um antes indeterminado. De alguma maneira, a poesia é rebelde a qualquer poética, se esta for entendida como princípio geral da criação artística. A poética é excedida pela poesia, quando esta se nutre e se faz atravessar por um insistente fulgor do inaugural, de cada vez emergente.
II. Recomeçar de cada vez
A poesia acontece, irrompe:
A minha maneira de escrever fundamental é muito próxima deste «acontecer». O poema aparece feito, emerge, dado (ou como se fosse dado). Como um ditado que escuto e noto.2
Trata-se de uma ideia importante, que praticamente atravessa a poesia e a poeticidade de Sophia: o princípio, a busca de um princípio tão recuado, tão fundamental, tão silencioso na sua discreta urdidura, que antecede o princípio, que o condena ao indício, que o recomeça a cada sílaba. Nesse (re)começo (res)suscita o gesto criador que marca qualquer princípio. A poesia é sempre uma nova manhã, porque sempre recomeça. Ela está nas coisas, no balbucio que transporta o acontecer de cada coisa, se o soubermos e quisermos escutar. A anterioridade inscreve-se no acontecer do poema, antes da possibilidade da ordenação do tempo. É esta anterioridade – este antes do próprio início – que afasta o acontecer da poesia da matéria impura do “fazer sentido”, da “imposição da razão” ou da orientação calculada. Quando lemos, por exemplo, “Projecto II”, poema incluso em «O Nome das Coisas», deparamos com esta mesma projectada poética que, antes de ser pensável, pura e simplesmente acontece, em excedência face a qualquer possibilidade de ordenação disciplinar do pensamento.
III. Na vocação do mar
Começa assim:
Esta foi a sua empresa: reencontrar o limpo
Do dia primordial. Reencontrar a inteireza
Reencontrar o acordo livre e justo
E recomeçar cada coisa a partir do princípio3
Sublinhe-se: “recomeçar cada coisa a partir do princípio”. Partir recomeçando; partir do princípio no recomeço; criar recriando. Partir do princípio é recomeçar, isto é, abdicar do princípio, rasurando o grau zero do princípio. Recomeçar é repetir o gesto de começar, começando sempre uma segunda vez. Iniciar novamente. Nascer e renascer a cada sílaba ou morrer em cada uma delas. Em cada repetição um novo recomeço, uma nova criação na vez do acontecer do poema. Repetir a cada vez e por cada vez… Repetir numa cadência de onda, de vaga, de energia marítima em que cada investida se cria de um algures indeterminado até ao ponto de choque ou de carícia. Sabemos como, em Sophia, a revisitação do início, esta “relação arcaica com o mundo”, como confessará a Jorge de Sena4, adquire uma vocação marítima. Em “Delphica”, segmento do livro «Dual», encontramos no caminho para Delphos essa preocupação iniciática “Desde a orla do mar” [“Onde tudo começou intacto no primeiro dia de mim”5].
Mas pode um poema ambicionar regressar a um mar iniciático, a um mar germinal? Ou pode transportar esse início? E a que preço? Sabendo-se, ou reconhecendo-se, que a busca pela origem, a busca que deu origem à Filosofia e ao Ocidente, sempre procurou uma espécie de unidade inamovível, feita de solidez e de lógica, como retomar essa pergunta pela origem a partir da inóspita matéria do mar? E de que mar? E poeticamente?
IV. Navegações
O mar oferece-nos a dimensão cadenciada da lonjura. Irredutível lonjura essa, cuja invisibilidade e desalcance se experimentam sem se domesticarem no fundo do poema, no modo como este, uma vez mais, acontece.
Em «Dia do Mar», apresenta-se o sentido de uma Navegação a partir de um longe arqui-originário, que se indicia mais do que se manifesta. Ou, se quisermos, que se insinua por detrás do que é manifesto, como numa aparição que se revela tanto quanto se oculta; que revela a própria ocultação:
Distância da distância derivada
Aparição do mundo: a terra escorre
Pelos olhos que a vêem revelada.
E atrás um outro longe imenso morre.6
À dimensão do acontecer, na sua projecção de um início impossível, mas que sempre renova o seu ímpeto, acrescentemos então o factor «distância»: distância revelada, mas revelada enquanto distância. De longe, ela surge como longe, não esquecendo que esse longe se vê, é visto (“a terra escorre/ Pelos olhos que a vêem revelada”). A escrita apresenta a visão dessa lonjura – e por isso excede a visão, excede o visível. Tudo se passa, tudo se organiza, como já Silvina Rodrigues Lopes afirmou, no “desencadear do acto de escrita como desejo de atingir o fascínio do momento em que o mundo se coloca como um “em face arrebatador”.7 Esta entrega ou devolução do mundo no poema é, de algum modo, a assinatura de Sophia de Mello Breyner como poeta do real, do amor ao real e ao aparecer do real, como imanência. Sophia, que se disse também como poeta da fidelidade que excede a esfera da autonomia, exigindo uma “intransigência sem lacuna”8 na atenção ao que existe. Este real, mais evocado do que reconhecido ou apresentado, merece ser posto em interrogação, quando Sophia o formula e, ao mesmo tempo, o afasta de uma tradição filosófica aqui claramente posta em causa, ou reapresentada, sob signo de uma navegação poética.
V. Alétheia
Por isso se interroga a palavra clara, desocultada ou secreta, herdada sob o signo de Alétheia. Lembremos que a palavra helénica para “verdade” se encontra filosoficamente associada a Parménides, que nela inaugura uma via de conhecimento afastada do rumo enganador das aparências. A preocupação parmenidiana com a Alétheia abre, na Filosofia, um problema crítico em que o que está em causa é a distinção e o limite entre ser e não-ser.9 Sophia reapropria-se da palavra Alétheia como sentido para o olhar captado em «Navegações». Nada de descobrimento, de gesta heróica ou de conquista, mas antes a estranheza de um primeiro olhar, contemporâneo da fascinação da mirada e do deslumbramento da paisagem.10 O termo, porém, insinua-se mais como problema do que como solução, no meditar escutador de uma arte poética desta natureza.
O sentido de uma Alétheia é aqui, por hipótese, a devolução da palavra a um sentido exterior a uma tradição aletheológica, pertencente à tradição preponderante do logos filosófico. Como escreve Blanchot quando, em «L’écriture du désastre», sublinha a ocultação e o segredo que persiste na palavra – no próprio enunciar da palavra, onde começa por palpitar um étimo de negação, como que um indício do limite da verdade. Repetidamente, impõe-se o que se não manifesta totalmente, irredutível ao ver da representação: “um retirar-se, um subtrair-se que não o é por associação ao homem ou em si-mesmo, que não está destinado à difusão, mas que é transportado pela linguagem como seu segredo silencioso”.11 Na leitura de Blanchot, uma crítica a Heidegger, outro dos grandes escutadores da palavra Alétheia.
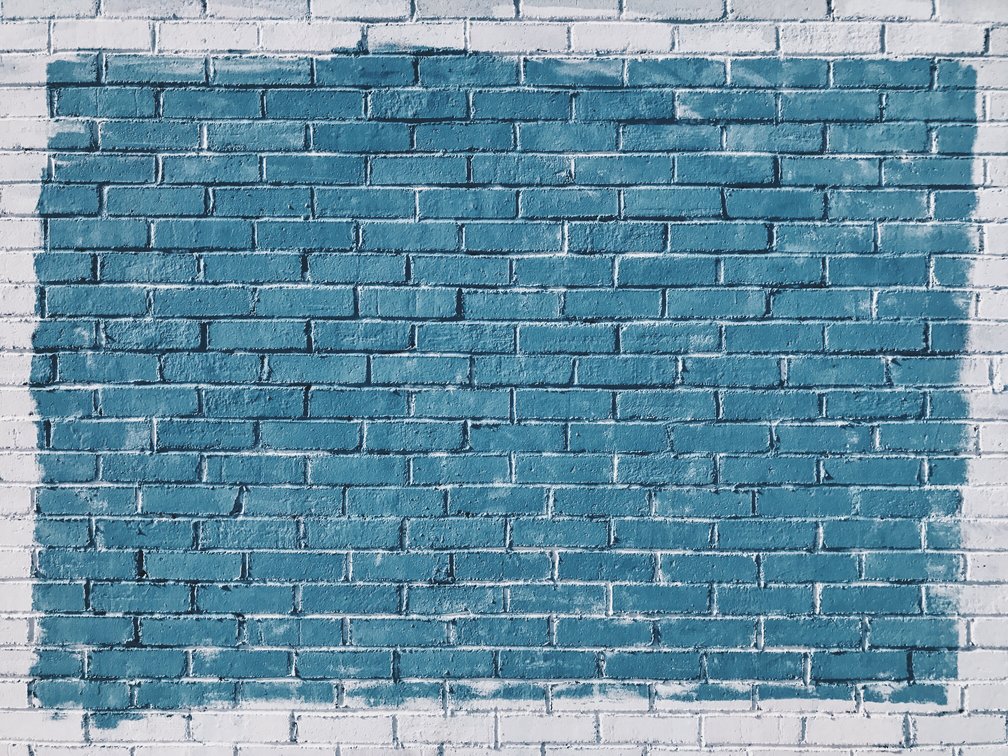 Patrick Tomasso
Patrick Tomasso
VI. O rosto pintado à proa
Para Heidegger, a crítica da tradução de Alétheia enquanto “certeza”, “objectividade” ou “realidade” constrói-se tomando em consideração um espanto iniciático – também ele fundacional – como morada; um espanto que fale perguntando.12 Este espanto interrogativo esboça, de alguma maneira, a convivência bailarina e simultânea entre velamento e desvelamento, claridade e obscuridade, prefigurado por Ulisses, na «Odisseia», ao tapar a cabeça para ocultar as lágrimas dos príncipes e conselheiros dos Feaces – velando-se de todos, ou de quase todos.13
Tendo Ulisses por motivo, Heidegger lê em Alétheia a enunciação de uma presença velada e desvelada, em que “a presença das coisas presentes não nos fala senão quando brilha, se dá a conhecer, está exposta-perante, emerge, se produz, se oferece à vista”.14 Velar pela luz e claridade ou hipoteticamente, na língua de Sophia, “aquilo a que os gregos chamavam Alétheia, a desocultação, o descobrimento”. Mas a poeta acrescenta ainda à sua hipótese uma frase decisiva, apostrofando o seu olhar de descoberta numa precisão fundamental: “Aquele olhar que às vezes está pintado à proa dos barcos”.15 Olhar exposto às investidas do mar, portanto.
Talvez um olhar em errância, ou exposição ao inesperado, ao imprevisível, ao que não se vê vir. Vulnerabilidade e enfrentamento, no tal “em face” posto em jogo na urdidura de Sophia. Em «L’écriture du désastre», Blanchot põe em questão o esforço etimológico heideggeriano ao invocar, em Alétheia, o que Platão entendeu, de forma passageira, por “errância divina”.16 Esta errância redireccionará o sentido de Alétheia: de desvelamento e de desocultação ao abrigo da “casa do ser” para uma ex-posição, um desabrigo17 – ou olhar posicionado à proa do barco, em face do que se não prevê. Se quisermos, a ligação graficamente hifenizada, em Sophia, entre Revolução – Descobrimento, tão distinta da via segura de uma simples desocultação:
Revolução isto é: descobrimento
Mundo recomeçado a partir da praia pura
Como poema a partir da página em branco
— Katharsis emergir verdade exposta
Tempo terrestre a perguntar seu rosto18
Numa palavra, a mais directa inversão de Heidegger, com o enigma e o segredo como preponderância face ao centro desvelador de uma hermenêutica onto-fenomenológica. Limites da representação, pois, onde nem regimes de representação sobrevivem numa «Arte Poética». Nenhuma poética, que não um insistente fulgor inaugural: uma outra Alétheia.
VII. Fulgor do inaugural: regresso à imanência
Em «Coral»:
Poema de geometria e de silêncio
Ângulos agudos e lisos
Entre duas linhas vive o branco.19
Na arquitectura do poema a mansidão, a coincidência e a tradução do desígnio das coisas e do mundo. Mas também, ao mesmo tempo e no mesmo espaço, o silêncio como derivação em potência e a persistência do espaço em branco entre duas linhas. Esta tensão confirma o poema como fidelidade ao que acontece no seu eterno recomeço, enquanto insistente fulgor do inaugural e como missão de imanência. Uma imanência que, na magnífica troca epistolar com Jorge de Sena, Sophia dá por traída pela cultura ocidental.20
A traição da imanência decorre, na visão de Sophia, da ancoragem do ser ao logos, com o consequente esquecimento da physis, domesticada pela razão. Um esquecimento e docilização que talvez o reinício a partir do kaos possa reavivar.21 Retomar a imanência é voltar à relação com as coisas, ao enraizamento no mundo sem a mediação calculadora da Razão, mas com a pulsão iniciática e matinal da palavra no poema. No poema, a recuperação de uma certa infância.
Quando, em “Arte Poética IV”, afirma ter conhecido a poesia antes de saber da existência da literatura, Sophia fala de infância e de escuta. É já um enunciado quase escolar a ideia de que a poesia é, em Sophia, palavra à escuta; no seu próprio dizer, “o poeta é um escutador”.22
Em Sophia, a escuta corresponde a um silêncio despersonalizado, pulsando directamente das coisas para o respirar do poema. É o que nos diz a última das suas “cenas primitivas”:
No fundo, toda a minha vida tentei escrever esse poema imanente. E aqueles momentos de silêncio no fundo do jardim ensinaram-me, muito tempo mais tarde, que não há poesia sem silêncio, sem que se tenha criado o vazio e a despersonalização.23
Corresponde esta despersonalização a um emudecer – “o poema falou quando eu me calei e se escreveu quando parei de escrever”24 – que recupera a infância enquanto experiência e enquanto noção. Porque, lembremos, infância é o étimo latino que diz uma linguagem ausente e uma expressão vedada que, no que toca a Sophia, corresponde ao encontro com a própria experiência do poema25. Uma infância, sim, que se esgueira de um ver e de um falar mediado por uma certa adultez da razão, e que se aproxima declaradamente de uma disposição originária e imperturbada das coisas e das palavras nas coisas.
Pulsa, no poema escutado desde a infância – antes mesmo de se saber da existência da literatura –, o protesto sonoro e sem língua que é a própria infância. E tudo se modula ou permeia por esse grito arqui-originário, que as instituições da cultura e da literatura artificializam e congelam. Como diz Sophia, arrumar a arte como segmento da cultura é “uma coisa um pouco escolar e artificial”. Escolar, isto é, negando-se a infância originária e primitiva que a instituição domestica. Completa Sophia: “A obra de arte faz parte do real e é destino, realização, salvação e vida”.26
A poética de Sophia coloca-nos perante um insistente fulgor do inaugural. Ou talvez este simplesmente rasure a possibilidade de uma poética: apenas início e manhã, alétheia e errância, escuta e infância, princípio recomeçado… Poema.
NOTA: O autor escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.
Notas
Andresen, S. M. B. (2010). “Arte Poética IV”, in Obra Poética. Lisboa: Editorial Caminho, pp. 844-847, cf. p. 844.
Andresen, “Arte Poética IV”, cit., p. 844.
Andresen, “Projecto II”, «O Nome das Coisas», cit., p. 648.
Andresen, S. M. B. e Sena, J. (2010). Correspondência 1959-1978. Lisboa: Guerra & Paz, p. 134.
Andresen, “Desde a orla do mar”, «Dual», cit., p. 542.
Andresen, “Navegação”, «Dia do mar», cit., p. 105.
Lopes, S. R. (1998). Exercícios de aproximação. Lisboa: Vendaval, p. 52.
Andresen, “Arte Poética II”, cit., p. 839.
Peters, F. E. (1983). Termos filosóficos gregos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 29.
Andresen, “Nota a Navegações”, «Navegações», cit., p. 700.
Blanchot, M. (1980). L’écriture du desastre. Paris: Gallimard, p. 145.
Heidegger, M. (1997). “Alèthéia (Héraclite, fragment 16)”, in Essais et conferences. Paris: Gallimard, pp. 311-341, cf. pp. 313-314.
Homero (2003). Odisseia, trad. F. Lourenço. Lisboa: Livros Cotovia, VIII, vs. 80-95.
Heidegger, cit., p. 317.
Andresen, “Nota a Navegações”, «Navegações», cit., p. 700.
Blanchot, cit., p. 148.
Blanchot, cit., p. 149.
Andresen, “Revolução – Descobrimento”, «O Nome das Coisas», cit., p. 623.
Andresen, “Poema de geometria e de silêncio”, «Coral», cit., p. 249.
Andresen e Sena, cit., p. 138.
Andresen e Sena, cit., p. 139.
Andresen, “Arte Poética IV”, cit., p. 844.
Andresen, “Arte Poética V”, cit., p. 848.
Andresen, “Arte Poética IV”, cit., pp. 846-847.
Andresen, “Arte Poética IV”, cit., p. 844.
Andresen, “Arte Poética III”, cit., p. 841.